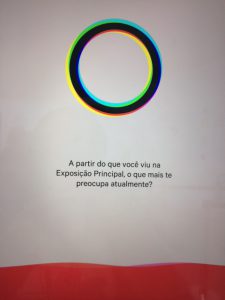A educação a distância é capaz de gerar muitas oportunidades e abrir um sem-número de possibilidades. É uma modalidade que tem muito a crescer. No entanto, considero essencial que tenhamos um posicionamento crítico e reflexivo em relação ao uso das tecnologias digitais na educação, de um modo geral, incluindo-se aí a EaD.
A ideia da “distância” na EaD me incomoda, em um certo sentido; penso que devemos reduzir a distância da educação a distância, digamos assim. É importante nos preocuparmos para que, no espaço virtual da educação a distância baseada em tecnologias, não desapareçam as subjetividades, as particularidades de cada aluno e de cada professor. Cada um que participa do processo de ensino-aprendizagem carrega um olhar, uma série de experiências, muitas expectativas, ansiedades, filosofias. E isso tem um valor enorme para que aconteça uma educação humanizada, inclusiva e rica em vários sentidos.
Quando o ensino é presencial, essas subjetividades naturalmente aparecem, pois alunos e professores levam os seus corpos, a sua presença física para o ambiente de aprendizagem. Já a experiência restrita ao online, na modalidade a distância, envolve o risco de separar o sujeito de seu corpo – o qual é parte essencial do conjunto cognitivo de um indivíduo, apesar de às vezes isso ser esquecido (vide as reportagens sobre como O CÉREBRO aprende, O CÉREBRO se emociona, mas… o cérebro não está sozinho nessa…! É o corpo todo que vai junto com ele!).
Se há apenas o ambiente online para a aprendizagem, essas especificidades ficam escondidas, prejudicadas pela pasteurização que tantas vezes emerge da redução de indivíduos a logins. Especialmente quando se trata de um processo voltado para uma educação para a vida, ou seja, para a formação dos estudantes de um modo amplo, creio que isso pode ser bastante prejudicial. Talvez seja menos danoso no caso do ensino de uma habilidade mais focada na técnica, na aplicação imediata.
Soma, e não substituição
Diante disso, o caminho que me parece mais interessante para somarmos as potencialidades das tecnologias com a manutenção dessas importantes trocas de experiências é o da união de experiências online com experiências offline, sejam aulas, palestras, encontros, treinamentos, enfim.
Para diminuir a distância da educação a distância, também creio ser preciso oferecer apoio e incentivo ao aluno, de forma permanente. Estudar a distância, afinal, sempre exige uma dose maior de disciplina, organização, concentração e capacidade de priorização por parte do estudante. Ajudá-lo a evoluir com relação a essa organização e planejamento pode, então, contribuir para manter esse aluno interessado, confiante e motivado.
A motivação pode ser ainda maior quando o estudante encontra um ambiente virtual de aprendizagem intuitivo, que funcione bem, e ao mesmo tempo seja acolhedor; quando, nessa experiência virtual, ele encontra ferramentas bacanas e um conteúdo ao mesmo tempo envolvente, bem apresentado, claro e objetivo. E esse esforço de colaborar com a experiência do aluno e de apoiá-lo em sua aprendizagem a distância tem como pilar fundamental justamente o conhecimento que se tem desses alunos, que vem da convivência presencial com eles. Então, o online e offline retroalimentam-se. Um não deve substituir o outro.
O potencial das tecnologias digitais na educação a distância não é de substituição das capacidades humanas, mas de ampliação dessas capacidades.
As iniciativas já existentes no sentido da união entre educação e tecnologias – cursos online, e-books e outros materiais digitais, ambientes virtuais de aprendizagem, o uso do machine learning em plataformas adaptativas, a gamificação de plataformas etc – têm sido essenciais para consolidar essa parceria entre educação e tecnologias digitais.
No entanto, educação e tecnologias podem ser aliadas mais fortes ainda se, por exemplo, conseguirmos minimizar dificuldades relacionadas à democratização do acesso à educação, utilizando as tecnologias digitais para isso. Não devemos perder de vista que essas tecnologias podem, ao mesmo tempo, contribuir para essa democratização ou causar mais problemas nesse sentido, uma vez que, se elas ampliam as possibilidades de aprendizagem e acesso à informação, isso precisa idealmente ser para todos, não apenas para alguns – caso contrário, a defasagem entre quem tem o acesso e quem não tem será ainda maior.
Acredito que a principal forma de aumentar e tornar mais eficaz ainda essa relação entre a educação e as tecnologias, de modo geral, é conhecendo as implicações das tecnologias digitais a nossa sociedade, analisando os seus impactos, de forma profunda. Por exemplo, precisamos pensar na nossa relação com a inteligência artificial.
Há um enorme medo de que os robôs nos substituam, mas será que é por aí?
Em alguns casos, máquinas trabalharem por nós não parece ser um problema, pelo contrário, já que robôs e sistemas podem desempenhar certas tarefas de um modo até mais eficiente que humanos, sim – podem fazer inúmeros cálculos em pouco tempo, apenas para citar uma das situações. Mas, há outros casos, aqueles que envolvem as experiências nas quais não podemos prescindir da nossa relação direta com o mundo, com as outras pessoas, que representam algo único, algo que nos ajuda a crescer; esses casos não podem ser protagonizados ou pautados por algoritmos e robôs.

Algoritmos não podem resumir ou restringir as nossas experiências, e robôs não podem ter experiências como nós temos, e que são imprescindíveis para o nosso crescimento. Erramos, acertamos, sofremos, comemoramos, tentamos de novo: isso é humano. Criamos, testamos, compartilhamos com os outros o que pensamos: isso é humano.
Muito do medo das tecnologias, acredito, vem do receio da perda de espaço, vem do medo de que as máquinas nos tornem obsoletos. Na verdade, devemos pensar em ampliação, parceria, novas possibilidades para quem aprende e para quem ensina.