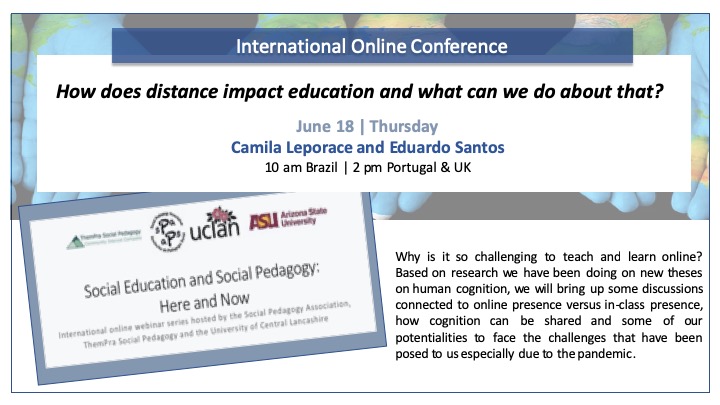Precisamos de uma WWW democrática. Uma rede de conexões reais no espaço virtual.
Esta semana, recebi de diversas pessoas o vídeo que alardeia aquilo que na prática todos temos notado: a nossa navegação na Web é completamente rastreada pelo Facebook. Se você acessou um site e viu algo de que gostou mas não se lembra direito qual foi, esqueceu o nome etc, pode usar o histórico do seu navegador para reencontrá-lo ou… pode usar o histórico do Facebook. Vá em Configurações > Sua atividade no Facebook > Atividade fora do Facebook e verá que está tudo lá.
O Facebook está se tornando a própria World Wide Web, que não é mais tão vasta, ampla ou grande no melhor sentido da coisa e, diga-se de passagem, está cada vez mais chata, comercial e robotizada – no sentido literal. O que temos é um território mapeado, em que um chip com nossos logins (na forma de app do Facebook) funciona como uma espécie de arco íris que leva ao tesouro: nossos dados.
O problema nao está só no Facebook. Até porque ele está acompanhado da Amazon, Google, Apple. E alguns podem dar de ombros e dizer que esse rastreamento das lojas e sites que visitamos, em particular, pode nem ser tão preocupante, apenas irritante.
Mas é fato que, pela nossa sanidade, pela longa vida às artes, à filosofia, à política, ao cinema, às reais trocas de ideias, precisamos de uma internet democrática. Uma World Wild Web, isto é, uma Web “selvagem” no bom sentido, ampla de fato, democrática, capaz de se abrir à vastidão da natureza humana, dos nossos desejos e sonhos, ajudando-nos a criar e a fortalecer nossas reais conexões. Para usar esse termo busco como referência o pesquisador Edwin Hutchins, autor de Cognition in the Wild, este livro aqui. A ideia é a de analisar a cognição humana em seu habitat natural, a natureza, a cultura, as relações sociais, em vez de fazer isso apenas em laboratórios/ambientes controlados – o que poderia levar a uma dimensão bem mais fiel dos nossos processos cognitivos.
Penso enquanto escrevo numa Web que reflita as múltiplas realidades que vivemos, que se conecte melhor com o mundo que habitamos e que construimos todos os dias, em vez de apenas tentar construir esse mundo para nós – fazendo-o puramente devotado à venda, um palco em que se discute basicamente o que vale mais e quanto se quer pagar. Um mercado das pulgas em que as pulgas somos nós (isso é pior ainda do que ser as os cacarecos à venda – ou não…). Sim, eu sei que o mundo “real” também o coloca o capital acima de tudo, mas é exatamente por isso que precisamos mudar a Web (e o mundo) antes que o mundo que a Web tenha para refletir seja exatamente esse mundo chato e vazio como ela!
Um exemplo: para um músico “independente” – uma classificação que considero um tanto falha (por vários motivos) mas que apenas quer dizer no senso comum um artista que faz seu próprio percurso sem esperar as grandes gravadoras/o mainstream etc (o que acho louvável) – usar o YouTube para divulgar seu trabalho tornou-se praticamente impossível. Se tem dúvidas, converse com um deles e confira a odisseia que é ter um canal e conseguir alguns míseros seguidores., mesmo que você tenha uma carreira consolidada, muitos fãs, muitos shows no currículo e muitos álbuns lançados. As redes sociais que usamos são mainstream. Elas criam o seu próprio mainstream. O problema é que elas definem as prioridades e descartam o que não é prioridade para elas. Os “grandes” seguem “grandes”, com muitas aspas, e os “pequenos”… os pequenos que lutem.
Esse é só um exemplo. Se você nunca estranhou o alcance ínfimo de uma determinada publicação sua no FB quando esperava muitos likes, é porque provavelmente só posta gatinhos. O FB adora gatinhos. Aliás, aposto que Zucker fez algo de bom, pelo menos, que foi popularizar os gatos e fazer mais pessoas adotá-los, porque agora parece que todos têm gatos. O FB adora gatos porque as pessoas passam HORAS vendo vídeos de gatos.

Voltando à Web democrática: ela era a ideia original de Tim Berners Lee, mas simplesmente não aconteceu. Mas ele não desistiu: Tim tem uma startup chamada Inrupt e está trabalhando por uma nova estrutura de rede, chamada SOLID. A ideia é repensar a maneira como aplicativos armazenam e compartilham dados pessoais. Para isso, em vez de armazenar dados em servidores de uma empresa que se interessa apenas em lucrar a partir deles, os usuários teriam um pequeno servidor exclusivo, localizado no Solid, um servidor grande. O problema dessa história é que ela parece levar ao problema do regresso infinito, isto é, Berners-Lee acabaria por ter os dados de todos armazenados em seu mega servidor com vários mini servidorezinhos; mas ele diz que não, que os dados estariam somente no servidor de cada um. De todo modo, as motivações de Tim me parecem sem dúvida melhores do que as de Zucker e sua turma, que não sabem mais onde colocar seu dinheiro. E continuam querendo faturar mais e mais às custas não apenas da nossa privacidade como do esvaziamento total da graça que a internet um dia teve, quando prometia ser a terra da criatividade que representava uma real alternativa ao caminho até então monótono do broadcasting.
Berners-Lee e o CEO (odeio estas siglas) da empresa dele – que não é ele, mas sim um cara chamado John Bruce – não esperam que o modelo descentralizado que estão tentando materializar desmorone as tech giants num passe de mágica, como bem lembra este artigo aqui da Wired. Até porque Zucker e os amigos não querem largar o osso carnudo dos nossos dados. O que a dupla Berners-Bruce quer é lançar uma alternativa, que possa se popularizar ao menos entre quem está preocupado com tudo isso que estou expondo neste texto e anseie por uma rede mais bacana, mais leve, aberta e criativa. Não sei exatamente como isso vai funcionar, se vai funcionar, mas esse caminho me parece bastante interessante e pretendo acompanhar. Sugiro que façam o mesmo. Até porque o problema não é apenas você gostar de hambúrguer com cheddar, e ficar toda hora aparecendo hambúrguer com cheddar para você nos anúncios na “sua internet”. O problema é que assim você vai viver num mar de hambúrgueres de cheddar com pequenas variações (com ou sem cebola…) em vez de conhecer um mundo que também tem hotdogs, pipocas doces, salsichas alemãs, saladas, pizzas ou seja o que for.
É bom pensar nisso antes que sua pressão arterial saia do controle.
(Imagem principal do post: amirali mirhashemian @ Unsplash)